


Psicologia da Educação

Aspetos conceptuais
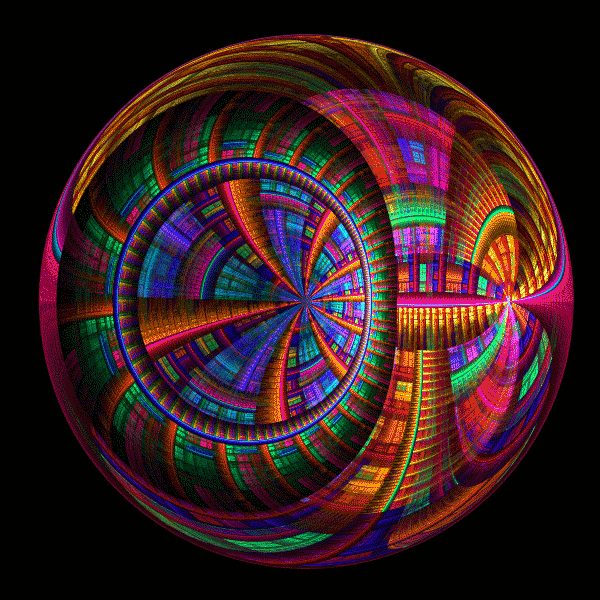
Formal, não-formal e informal em educação: visibilidade e relevância.
As situações educativas podem dividir-se em formais, informais e não formais, embora a fronteira entre as elas seja ténue o que melhor as pode distinguir tem a ver com o grau de intencionalidade, deliberação e estruturação das situações educativas. Durante bastante tempo a dimensão formal da educação era a única visível, sendo a informal e não formal largamente negligenciada, muito pela preponderância da educação escolar na sociedade contemporânea. À educação informal e não formal refere-se Trilla como “as outras educações” (Trilla, 1993). No entanto, essas dimensões mais escondidas têm grande importância, ocupando a vida dos indivíduos, com dinâmicas educativas em diferentes contextos (escolar, profissional, familiar,…) Assim sendo, a abordagem das transversalidades e inter-relações já existentes (ou a potenciar) entre formal, não-formal e informal em educação constitui um desafio crucial na ação e pesquisa educativas na contemporaneidade, acentuando a relevância de compreender examinar, estabelecer e explorar as interseções entre estas várias dinâmicas.
O que diferencia estas três dimensões, tem a ver também com o grau de planificação, com a intenção, e com a formalização das atividades ou processos educativos (Colleta, 1996). As mesmas três dimensões são apontadas por Trilla (1993) como partes constituintes de um “universo educativo tripartido” que o autor define como o conjunto de instituições, meios, situações, relações, processos, agentes e fatores suscetíveis de gerar efeitos educativos. Nesse universo, o informal abrange todos os contextos de vida e todas as pessoas que geram efeitos educativos sem terem sido configuradas para tal.
Educação formal
Remete para a organização dos processos educativos em função dos objetivos dos curricula, oficial ou centralmente definidos, com vista à orientação do sistema educativo, em contexto escolar. Podemos então falar de um sistema educacional institucionalizado e hierarquicamente estruturado em diferentes níveis de ensino, organizado e sistemático, sendo os seus objetivos definidos em função de uma dada intenção – a questão da intencionalidade. Assim, remete-nos para a transmissão deliberada de conhecimentos estruturados no tempo e no espaço (Colleta, 1996; Trilla, 1993).
Vários pensadores foram, ao longo do tempo sendo críticos da instituição escolar pelo seu papel “domesticador”, nas palavras de Paulo Freire, admitindo novas possibilidades educativas e emancipatórias. A publicação da Pedagogia do Oprimido, em 1970, insere-se na tentativa da desmistificação do seu carácter neutral, que supostamente favorecia apenas os mais dotados por lhes ser reconhecido o devido mérito. Paulo Freire assumiu como pressuposto básico, “um lugar-comum aparente”, de que “a educação não pode ser neutra” . Com efeito, assumir como válida essa neutralidade significaria favorecer a educação como “domesticação” ou a educação como um poderoso instrumento de alienação e controlo social, na medida em que impede o ser humano de se relacionar com o mundo que o rodeia e, por conseguinte, a ignorar que esta contribui para a perpetuação das estruturas sociais de dominação. Urge, então, procurar uma solução. Na sua obra insurge-se, ainda contra o aquilo que diz ilustrar o caráter “antidialógico” da relação educativa, em que ao aluno se reserva um lugar passivo sendo somente objeto da ação educativa, como se um mero recipiente de conhecimento se tratasse, enquanto ao professor ou educador , único detentor da realidade, se reserva a função de transmissão dos saberes que ele julgar pertinentes para a dócil plateia dos alunos e /ou educandos. A ênfase que Freire coloca no diálogo é justamente para que se altere o sentido da relação pedagógica ao aceitar-se, numa base de respeito mútuo, que ninguém é soberano no capítulo do saber, pois educadores e alunos partilham simultaneamente a condição de sujeitos-objetos do conhecimento ao trabalharem uns com os outros.
Ivan Illich propôs uma solução ainda mais radical ao preconizar a desinstitucionalização da escola. Este autor destaca a firme convicção “de que a maioria dos homens tem seu direito de aprender cortado pela obrigação de frequentar a escola” (Illich, 1988, p. 17). E neste sentido, enquanto os trabalhos de Coombs e da Comissão Faure se revestiam de preocupações inerentes à universalização da educação e às funções desta não se procurando soluções que não fossem senão em articulação com os sistemas de educação formal, inversamente Illich preconizava a abolição da escola obrigatória e a consecução de sociedades desescolarizadas, construídas na base de processos educacionais alternativos, numa antítese ao papel da escola na integração do ser humano nas sociedades capitalistas de produção e de consumo. Illich criticava ainda o peso crescente da escolarização e o correlativo lugar do indivíduo na hierarquia das posições sociais em função do número de exames e diplomas escolares conseguidos que mais não faz do que separar os que detêm e os que não detêm escolaridade, sem que os vários percursos na escola se traduzam, paradoxalmente, na aquisição de aprendizagens ou de qualificações significativas para o seu trabalho. Indo um pouco mais longe, acrescenta, ainda, que a maior parte daqueles que, duma certa maneira, tiveram algum proveito com a escola, sabem que não foi lá que aprenderam o que os ajudou no respetivo trabalho e também que a contribuição da escola para o êxito deles não resultou provavelmente do conteúdo do ensino” (Illich, 1973, p. 30).
A educação não formal
Ocorre fora do sistema regular de ensino e, mesmo subalternizada em relação à educação formal pois nasceu como um complemento desta – assumiu um papel de relevo na economia dos processos educativos, já que se afigura como “uma contribuição rápida e substancial no progresso dos indivíduos e da nação” (Coombs, 1968, p. 203). Sendo também intencional, sistemática e deliberada, não se encontra formalmente organizada, podendo incluir situações educativas geridas por outros objetivos que não os escolares, não se submetendo as suas aprendizagens, obrigatoriamente, a avaliação formal, ou seja é uma situação educativa não escolar, organizada fora da estrutura do sistema formal. Na obra de Coombs (1968, p. 203) chama-se a atenção para a existência de um “sistema paralelo” de educação, perspetivado como um “conjunto anárquico de atividades não-escolares de educação e de formação que é – ou deveria ser – um importante complemento do ensino escolar, um e outro ajustando-se para constituir o esforço máximo consentido por um país para instruir a sua população”. Reconhece-se, assim, a importância de outros contextos de educação e formação, e do concomitante alargamento da perspetiva educativa dentro do espírito da educação permanente, então a emergir, saliente-se igualmente a imposição do marco de referência da escola do qual a educação não-formal ficou doravante refém. Face a uma educação formal estruturada e coerente justapunha-se uma educação não-formal algo dispersa por um sem-número de atividades, com objetivos próprios. Sobretudo nos anos 2000, verifica-se um novo interesse e uma revalorização do não-formal e do informal em educação. Na verdade, se não é uma novidade que desde sempre se aprende ao longo e ao largo da vida, existe hoje, em geral, uma valorização das diversas oportunidades educativas (em várias idades e contextos) que se reflete nas práticas e representações de indivíduos, instituições e estados nacionais (Alves, 2010). Esta questão prende-se, igualmente, com os progressos no domínio da psicologia do desenvolvimento, ao conceber os processos evolutivos como processos de mudança que podem ocorrer ao longo da vida (life-span developmental psychology), que se traduz na valorização das práticas de formação que têm lugar em idades posteriores à escola e noutros contextos institucionais (empresas, centros de formação profissional, etc.),sendo maioritariamente levadas a cabo por organizações da sociedade civil e assumindo as mais diversas formas, desde seminários de formação a workshops temáticos ou trabalhos/visitas de campo.
Apesar desta prática existente, o conceito de educação não-formal propriamente dito é raramente utilizado e essas mesmas práticas quase nunca reconhecidas enquanto tal. Por seu lado, tanto no discurso político como na produção científica/académica, o termo “educação não-formal” parece ser raramente utilizado, sendo no entanto frequentes, temáticas adjacentes como a educação de adultos, educação ao longo da vida, educação permanente, educação comunitária, etc.
A educação informal
Não é necessariamente organizada, podendo incluir os processos educativos produzidos de forma indiferenciada e subordinada a outros objetivos. A função educativa não é dominante. Remete para a transmissão de atitudes, conhecimentos e capacidades com diferentes modos de organização (Colleta, 1996). É um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida, através do qual cada pessoa adquire e acumula conhecimentos a partir de experiências quotidianas e interações sociais (Trilla, 1993), o que Rui Canário denomina de “adquiridos experienciais” (Canário, 1999).
Ainda, do legado freireano, releva-se a importância dada por ele à relação do indivíduo com o mundo que o rodeia, a partir da qual o sujeito procura o sentido da transformação social pelas aprendizagens significativas do seu quotidiano. É dada importância fundamental aos contextos e processos de educação informal, nos quais se partilha o conhecimento e se (re)descobre e compreende criticamente a realidade, que para “os que não têm voz” (os oprimidos) pode constituir um veículo propício para o desenvolvimento da consciência de que a transformação social é possível, desde que os sujeitos se “consciencializem” que têm poder para o fazer. O seu trabalho junto de comunidades desfavorecidas, nas experiências de alfabetização, e nas inúmeras situações educacionais que vivenciou tanto como educador e administrador, permitiu consolidar uma perspetiva de análise da prática educativa de inegável interesse para os domínios da educação informal e da educação popular , sobretudo pela valorização que Paulo Freire fez da experiência vivida das pessoas como mais-valia para conferir sentido à atividade educacional. Este autor remete-nos para o debate sobre a importância das aprendizagens fora do contexto da escola, precisamente para o âmbito do que se convencionou designar de educação informal. Em Illich, este argumento assume todo o relevo para desacreditação da instituição escolar. É inequívoco para este autor que “a maioria das pessoas adquire a maior parte de seus conhecimentos fora da escola” (Illich, 1988: 37), de forma casual, e igualmente “a maior parte da aprendizagem intencional não é resultado de uma instrução programada” ,recusando liminarmente a procura de soluções para a “crise do ensino” baseadas em mais atividades escolares.
Avança com a proposta das escolas atuais, com ou sem paredes, autorizarem programas para os estudantes, substituindo as velhas por novas instituições que se assemelhem mais às bibliotecas e aos seus serviços anexos, que permitam, a quem quiser instruir-se, ter acesso aos utensílios e aos encontros que lhe são necessários para aprender a realizar as próprias escolhas" (Illich, 1973,p. 34).
A nova configuração educativa apresentava-se, assim, não burocratizada e hierárquica, tal qual como “canais” que possibilitariam o acesso aos recursos de aprendizagem, numa utopia que pretendia libertar o ser humano da pressão (escolar) da aprendizagem e (re)ligar a sociedade.
De “educação informal”: “refira-se nesta perspetiva, também os livros, jornais e revistas; o cinema e as emissões de rádio e televisão; enfim e sobretudo a influência educativa da vida familiar” (Coombs, 1968, p. 203).
Entretanto, contrariamente às intenções de Illich, não só não se caminhou rumo a uma sociedade desescolarizada como inclusive se acentuou o predomínio da escola e da educação escolar no panorama educativo, possivelmente configurando uma espécie de fenómeno de sobrescolarização do quotidiano das pessoas dando mais sentido à sua utopia, muito embora não seja crível, a médio e a longo prazo, avançar com a hipótese do fim da escolarização.
Algumas das soluções preconizadas têm mesmo, nos últimos tempos, ganho alguma notoriedade, desde o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (por exemplo, e-learning, e-teaching, e outras cambiantes decorrentes do uso da internet e da exploração do ciberespaço, assim como à recuperação de algumas modalidades de ensino doméstico (home schooling), fenómeno em franca expansão nos Estados Unidos da América entre famílias numerosas e de classe média, colocando na ordem do dia a centralidade da família nos processos de educação ( Afonso, 2001, p. 31).
Resumindo
Os processos intencionalmente estruturados inscrevem-se no âmbito da educação formal e não-formal e os processos não intencionais na educação informal (embora possa haver um outro nível de intencionalidade, e.g. educação familiar considerada uma ação intencional). A educação formal é intencional, sistemática e está institucionalizada. A educação não formal, tem o mesmo nível de intencionalidade e sistemacidade, mas não tem o mesmo grau de institucionalização. A educação informal não é intencional, nem sistemática, nem está institucionalizada, sobretudo no que se refere ao sistema regular de ensino, podendo haver um certo nível de intencionalidade e sistematização em determinados contextos (e.g. educação familiar). No entanto, reconhece-se o estado pouco avançado no desenvolvimento de teorias específicas nestes domínios, designadamente no que diz respeito às práticas educativas familiares (Coll, 1988, 1990).
Processo ensino-aprendizagem




